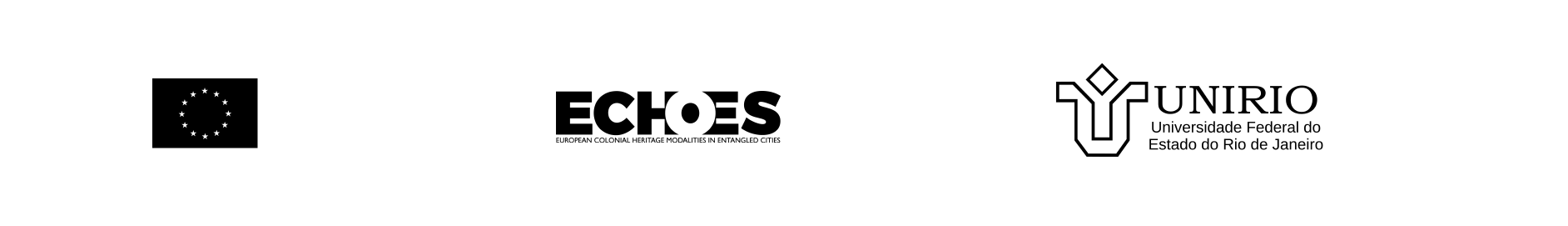Monumento ao Trabalhador Africano
Artigo por
Miguel B. Jerónimo e José Pedro Monteiro
Monumento ao Trabalhador Africano
A mão-de-obra africana foi muitas vezes a condição única e sine qua non da formação, consolidação e persistência histórica do chamado terceiro império colonial português. O trabalho assumiu, na vida económica, política, cultural e social do moderno colonialismo português, uma dimensão incontornável enquanto factor de produção e como produto económico em si mesmo. Foram milhares os “carregadores” africanos que permitiram o desenvolvimento dos circuitos de trocas essenciais à emergência do dito “comércio legítimo” e que suportaram parte substancial dos esforços de sucessivas guerras, desde as “campanhas de pacificação” à participação portuguesa na Grande Guerra. Muitos morreram, bastantes por subnutrição. Deles, os que sobreviveram ou morreram, pouco sabemos com segurança: nem nomes, nem origens, nem idade, nem etnia, muito menos interesses ou aspirações. Foram milhares os trabalhadores africanos recrutados, amiúde de modo coercivo, com “contratos” pouco claros e em condições de transporte e trabalho desumanas e insalubres, em “condições análogas à escravatura”. Eles foram decisivos para os esforços de edificação de “novos brasis” em África e para o desenvolvimento agrícola e económico. Sem esses trabalhadores, mal pagos quando pagos, submetidos a legislação facilmente instrumentalizável ou negligenciável, não haveria produção de algodão, café, sisal ou açúcar, nem extracção mineira. Não haveria companhias com dimensão significativa, nem mercado, por débil que fosse, com um mínimo de infraestruturas de comunicação, de estradas a portos, passando pelos caminhos-de-ferro. Não haveria obras públicas, fontanários, escolas, prisões, tribunais, habitação para colonos. Sem eles não haveria “missão civilizadora”, ou sociedade colonial. Afirmação que se manteria válida mesmo até à descolonização.
Relativamente conhecida, esta é uma história que precisa de ser aprofundada, com precauções, rigor e um enquadramento crítico. Ela é necessária para percebermos de que forma leis, políticas e práticas laborais e sociais marcaram o quotidiano de milhões de famílias que eram parte integrante – e responsabilidade – do Estado português. Apesar da sua decisiva contribuição na edificação material das infraestruturas do império ou na injunção moral, democrática, humanista que materializaram de cada vez que se rebelaram ou protestaram contra práticas incompatíveis com a ideia ou propósito universal de dignidade, o reconhecimento do seu papel histórico não existe, pelo menos de forma visível. Da mesma forma que são erigidas estátuas ao soldado desconhecido – símbolo cimeiro do nacionalismo político –, mas também ao pescador, ao emigrante ou ao agricultor desconhecidos, em várias localidades portuguesas, nenhuma razão obsta a que o “trabalhador africano”, que tornou Portugal no que é hoje, seja igualmente memorializado. Além de prova de respeito rigoroso pelo passado, essa evocação permite abrir espaço para outras perguntas, importantes no presente: Quais foram as trajectórias de vida destes milhões de africanos e africanas, muitos deles ainda hoje vivos? Como foram as suas vidas desestruturadas pela mobilidade forçada ou pela aplicação de sanção penal, por vezes incluindo castigos físicos? Que oportunidades de educação, especialização técnica e mobilidade social lhes foram negadas pela imposição de um trabalho rudimentar, repetitivo e desgastante e, mais importante, forçado? Que lugar reservou para eles o Portugal metropolitano, que durante anos os havia jurado portugueses para pouco tempo depois lhes negar essa condição? E como é que estas circunstâncias marcaram as oportunidades e escolhas dos seus descendentes, filhos e filhas, netos e netas?

0